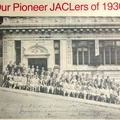Um notável e inovador escritor nissei, Gene Oishi, retratou comoventemente o trauma do encarceramento da comunidade nipo-americana durante a guerra.
Nascido em 1933 na pequena cidade agrícola de Guadalupe, Califórnia, Oishi cresceu em uma pequena mas vibrante comunidade nipo-americana no coração da Califórnia. Após a Ordem Executiva 9.066 e o encarceramento que se seguiu, a comunidade desapareceu, com a família Oishi perdendo sua valiosa fazenda. Oishi e sua família passaram os anos de guerra encarcerados no campo de concentração de Gila River, no Arizona. Como outros jovens nisseis, Oishi descobriu que o ambiente desolado e as condições da prisão mudaram sua vida, e a experiência afetaria sua visão de mundo a partir de então.
Depois de deixar o acampamento, Oishi e sua família retornaram brevemente para Guadalupe, onde se matriculou na vizinha escola secundária de Santa Maria. Embora Oishi enfrentasse discriminação constante na escola, ele encontrou consolo tocando trombone com a banda de jazz da escola, uma paixão que influenciaria sua vida mais tarde. Depois de se mudar com a família para San Pedro e terminar o ensino médio, Oishi decidiu se alistar no Exército dos Estados Unidos. Estacionado na pequena cidade francesa de Verdun (conhecida como local de uma famosa batalha da Primeira Guerra Mundial), Oishi tornou-se conhecido como um talentoso trombonista da banda do Exército dos EUA. Sua carreira musical, embora breve, o expôs aos clubes de jazz underground administrados por soldados negros americanos.
Depois de deixar o exército, Oishi voltou à escola e se formou em Literatura Comparada pela UC Berkeley. Ele então se matriculou brevemente na faculdade de direito da Universidade de Michigan, onde conheceu sua futura esposa, Sabine. Embora Oishi não tenha concluído seu curso de direito, ele encontrou uma saída para sua paixão por escrever como jornalista. Depois de frequentar aulas de jornalismo na UCLA, Oishi iniciou sua carreira jornalística em 1964 como jornalista da Associated Press. Dois anos depois, Oishi começou a trabalhar como jornalista no Baltimore Sun.
Em meados de 1968, durante uma missão após a campanha de 1968 do candidato à vice-presidência Spiro Agnew, Oishi se tornou o centro da atenção nacional depois que Agnew chamou Oishi de epíteto racial. Assim como o encarceramento anterior, o comentário abalou Gene como um lembrete de sua diferença racial em relação aos americanos brancos.
Embora Oishi tenha passado os anos seguintes como repórter do Baltimore Sun em Baltimore e Bonn, Alemanha, a questão de sua identidade racial o levaria a uma carreira como escritor criativo. Em abril de 1985, alguns anos depois de testemunhar perante a Comissão do Congresso sobre Relocação e Internamento de Civis em Tempo de Guerra (CWRIC), Oishi colocou no papel alguns de seus pensamentos sobre a questão de abordar os efeitos do encarceramento. Publicado no New York Times sob o título “A ansiedade de ser nipo-americano”, o artigo de Oishi detalha sua longa jornada para visitar o antigo local de seu encarceramento no campo de concentração do Rio Gila.
O primeiro produto importante de seus anos de ruminações sobre a questão da identidade nipo-americana seria Em Busca de Hiroshi . Escrito como um livro de memórias, In Search of Hiroshi , publicado em 1988 pela editora Charles Tuttle, investiga profundamente a memória de Oishi enquanto ele procura sua própria infância perdida, personificada em um personagem que Oishi chama de “Hiroshi”. Perturbados pelo encarceramento, os nisseis, para Oishi, travam uma batalha constante de autossupressão de sua identidade para se conformarem à sociedade branca. Para Oishi, perceber essa batalha interna permitiu-lhe aceitar o trauma da experiência no campo e continuar procurando por “Hiroshi”. Embora precedido por outras obras literárias no campo, como Farewell to Manzanar, de Jeanne Wakatsuki e James Houston, e No-No Boy, de John Okada (também publicado pela Tuttle), In Search of Hiroshi foi inovador em sua análise psicológica da identidade nissei.
Além de In Search of Hiroshi , Gene Oishi é autor do romance Fox Drum Bebop . Publicado em 2014 pela Kaya Press, Fox Drum Bebop explora os temas de suas memórias de forma literária, dando vida ao personagem Hiroshi de suas memórias na forma de Hiroshi Kono.
Tive a sorte de entrevistar recentemente Gene em preparação para a próxima republicação de seu livro In Search of Hiroshi pela Kaya Press. Além de sentir uma afinidade pessoal com o trabalho de Gene, como alguém que cresceu perto de sua cidade natal, Guadalupe, fiquei impressionado com seus comentários perspicazes sobre o encarceramento e suas reflexões sobre acontecimentos, tanto passados quanto presentes:
Jonathan Van Harmelen (JVH): Seus livros In Search of Hiroshi e Fox Drum Bebop baseiam-se em suas próprias experiências de infância em Guadalupe. O que você lembra da sua infância? Houve algum evento específico que se destacou para você agora? O que você acha de Guadalupe agora?
Gene Oishi (GO): Eu costumava pensar na minha infância em Guadalupe como a única época da minha vida em que conheci a verdadeira felicidade. Talvez isso significasse apenas que a infância é o único momento na vida de qualquer pessoa em que a felicidade e a alegria puras são possíveis, e é por isso que é tão trágico que tantas pessoas neste mundo sejam privadas delas ou, de uma forma ou de outra, negadas as suas alegrias.
Para mim, porém, minha raça acrescentou outro elemento importante. Eu vivia no que equivalia a uma colônia japonesa independente e aparentemente autossustentável. Embora eu tivesse plena consciência do mundo branco que nos rodeava, e até participasse dele, nunca me preocupei nem pensei muito em ser japonês. Eu era um garoto japonês que morava na América. Meus amigos eram todos japoneses, mas fiz alguns amigos brancos na escola. Os professores eram todos brancos, mas não nos tratavam de maneira diferente das crianças brancas, embora pudessem ser rudes com os meninos mexicanos.
A guerra, claro, pôs fim a tudo isso. Mais tarde na vida, quando estava em busca da minha identidade, olhei para trás, para a minha infância e para a bolha culturalmente protegida em que prosperei. Quando comecei a escrever sobre isso, criei “Hiroshi”, um alter ego, para me dar alguma distância. .
Minha infância, claro, não foi um paraíso. Eu tinha um pai temperamental e dominador, que podia tornar minha vida miserável, mas também era afetuoso. A raça não era o problema que mais tarde se tornaria. Se encontrei racismo, foi por parte dos meus pais e de outros idosos da comunidade japonesa que insistiram que a raça japonesa era divina e que deveríamos comportar-nos em conformidade. Mas não sei até que ponto entendíamos isso quando crianças, pois tínhamos heróis samurais e cowboys. Comemoramos o aniversário do imperador, bem como o 4 de julho, feriados budistas, bem como o Dia de Ação de Graças e o Natal. Quando criança, não vi nem senti qualquer contradição nessa mistura.
Mais tarde na vida, sempre que estava angustiado, dizia: “Quero ir para casa”. Mas onde foi isso? Quando visitei Guadalupe na década de 1980, não havia mudado muito, mas não conseguia pensar nela como um lar. Muita coisa mudou em minha vida e em como eu via o mundo. O que eu quis dizer com “casa” foi uma sensação de conforto e segurança por ser quem eu era, uma criança cumprimentando o mundo ao meu redor com uma sensação de admiração. Era a simplicidade e a inocência da infância que eu desejava.
Nisso, talvez eu não fosse diferente de muitos outros que relembram com carinho uma época em que a vida era mais simples e um lar era onde uma criança podia se sentir protegida e segura. O trauma de ser forçado a sair daquela casa e colocado num campo de prisioneiros cercado por arame farpado e guardado por sentinelas armadas com rifles, baionetas, metralhadoras e holofotes foi de alguma forma suprimido. Eu costumava dizer, com toda a honestidade, que tudo isso não teve um efeito duradouro em mim.
JVH: Você menciona em seu trabalho que falou em um seminário de pré-audiência para a Comissão sobre Relocação e Internamento de Civis em Tempo de Guerra. Sobre o que você falou e como se sentiu em relação às audiências?
GO: Em 1981, porque um membro de sua equipe estava familiarizado com os artigos que eu havia escrito sobre o assunto, a Comissão do Congresso sobre Relocação e Internamento de Civis em Tempo de Guerra me convidou para falar em um seminário pré-audiência. O convite surgiu quando comecei a escrever seriamente um romance autobiográfico centrado na minha experiência durante a guerra. Eu até dei isso como motivo para renunciar ao meu cargo de secretário de imprensa do governador de Maryland. Portanto, foi um momento crítico na minha vida quando finalmente reuni a vontade de examinar seriamente o impacto da guerra nos meus pais, nos meus irmãos e em mim.
Acontece que eu ainda não estava à altura da tarefa. Senti cãibras misteriosas nos lábios quando falei sobre minha experiência durante a guerra. Até comecei a chorar enquanto escrevia, principalmente quando o protagonista, num momento crítico do romance, diz para si mesmo: “Eu sou japonês”.
Minha palestra ao Comitê do Congresso correu bem, pois descrevi os acontecimentos que se seguiram ao ataque japonês a Pearl Harbor - a prisão de meu pai pelo FBI, a prisão em massa e o deslocamento de japoneses para campos cercados por arame farpado, guardados por sentinelas e torres armadas, cada uma com um holofote. e uma metralhadora calibre 50. O que considerei sintomas psicossomáticos reapareceu quando comecei a falar da crise de identidade que a guerra e o nosso encarceramento tiveram sobre os nipo-americanos, especialmente as crianças.
Falei de uma época em que meus amigos e eu, assistindo a um filme de guerra, irrompíamos em aplausos e comemorações quando um navio de guerra japonês foi afundado e os fuzileiros navais invasores começaram a matar os “japoneses” que defendiam uma ilha. Juntei-me à torcida sabendo muito bem como minha mãe e os de sua geração ficaram horrorizados ao ouvir seus filhos se voltando contra os japoneses. Queríamos simplesmente ser americanos, e para ser americano era preciso odiar os japoneses.
Era um silogismo infantil, mas definia o dilema que eu e, sem dúvida, outros nipo-americanos enfrentamos, sujeitos como estávamos à propaganda do tempo de guerra que retratava a raça japonesa como intrinsecamente má. “Um bom japonês é um japonês morto”, dizia-se. Foi quando falei desses desafios psicológicos internos que meus lábios começaram a enrijecer e tive que agarrar o púlpito com todas as minhas forças para não cair no choro.
JVH: Você escreveu um artigo intitulado “A ansiedade de ser um nipo-americano” para o New York Times em 1985, que detalhava suas memórias do acampamento. Como foi escrever o artigo? E o que te inspirou a escrevê-lo?
GO: Semanas depois, reescrevi essa apresentação como um artigo de jornal, publicado pelo The Baltimore Sun. Pouco depois disso, a National Geographic me pediu para escrever um artigo sobre a resiliência da comunidade nipo-americana para se recuperar tão rapidamente da experiência devastadora do tempo de guerra. Aceitei a proposta mesmo sabendo que o que se esperava era uma história de sucesso de um povo forte e resiliente. Essa história era possível, mas descobri que não foi minha.
Ao viajar para Los Angeles, Seattle, Chicago, Nova York, Havaí e outros lugares, até mesmo para o local no Arizona onde minha família e eu estávamos encarcerados, entrevistando dezenas de nipo-americanos abrangendo um período de três gerações, descobri que as feridas do experiência de guerra estavam longe de estar curadas. A recuperação económica não curou as feridas emocionais.
Estranhamente, a primeira geração de imigrantes, os isseis como o meu pai, que tinham sido economicamente arruinados pela guerra, eram os menos conflituosos emocionalmente. Era a segunda geração, como a minha, e a terceira, a dos nossos filhos, que ainda enfrentavam dificuldades emocionais. Descobri que não estava sozinho na minha confusão sobre a minha identidade e nos medos reprimidos, na raiva e nas dúvidas sobre mim e o meu país.
Esse foi o artigo que apresentei à National Geographic , que rapidamente o rejeitou com uma generosa “taxa de morte”. Quando enviei uma versão condensada do artigo para a The New York Times Magazine , ele foi publicado com o título “A ansiedade de ser japonês na América”, o que não me agradou, mas devo admitir que se adequava ao seu conteúdo. A publicação do New York Times me fez pensar que minha história poderia ter alguma importância nacional, afinal. Deixei de lado meu romance e escrevi um livro de memórias, In Search of Hiroshi , que foi publicado pela Charles E. Tuttle Company em 1988.
JVH: Como você escreveu vários artigos e livros sobre o tema encarceramento e identidade, você acha que a história do encarceramento mudou ao longo do tempo? Você acha que mais pessoas, sejam nipo-americanas ou não, estão lendo sobre isso?
GO: Mesmo enquanto o encarceramento em massa acontecia, havia alguns que tinham sérias preocupações sobre a sua constitucionalidade, especialmente, como saberíamos mais tarde, no Departamento de Justiça dos EUA, mas tais preocupações não foram suficientes para anular os desejos do Presidente e a opinião popular. demandas.
Acredito que tenha havido um reexame gradual desse período, começando, penso eu, com o grande movimento pelos direitos civis que começou na década de 1950, quando o país, ou pelo menos um segmento significativo dele, começou a examinar quão profundamente o racismo estava enraizado na nossa sociedade. história, instituições e cultura.
Antes de começar a escrever sobre a minha própria experiência, muito do meu pensamento foi influenciado por livros escritos sobre a história da intolerância e do racismo por académicos e activistas negros. Se há mais interesse na experiência nipo-americana, isso é um subproduto do interesse geral na desigualdade racial e na sua história, o que hoje é chamado de teoria crítica da raça. É assustador que haja um movimento em desenvolvimento no país que veja tal inquérito como uma ameaça e queira suprimi-lo. É uma ameaça, claro, porque mina a supremacia branca. Os nipo-americanos foram presos não apenas porque estávamos em guerra com o Japão, mas porque não éramos da raça branca. Como é frequentemente apontado, os alemães e os ítalo-americanos não foram tratados da mesma forma.
JVH: Você menciona no artigo do The New York Times que Sanseis (Dwight Chuman, neste caso) acreditava que os homens nisseis eram “jovens confusos que conseguiram vender seu ódio por si mesmos e desaparecer na mentalidade dominante”. Essa afirmação ainda é verdadeira hoje?
GO: Dwight Chuman era um jovem com a autoconfiança e a estridência da juventude. Duvido que ele se expressasse de forma tão direta hoje, mas citei-o porque ele expressou, ainda que de forma demasiado dura, a frustração dos sansei com visão de futuro sobre o que eles viam como a timidez dos mais velhos em afirmar de forma mais aberta e agressiva as suas crenças raciais e étnicas. identidade. Ele era uma contraparte japonesa dos Panteras Negras.
A verdade é que nós, Nisseis, estamos a desaparecer de cena e as gerações mais jovens estão a perder a sua identidade étnica distinta e a tornar-se parte da corrente dominante. O que ainda nos diferencia é a nossa raça, que vivenciamos hoje não tanto como japonesa, mas como asiática ou simplesmente não-branca. Quando Donald Trump culpou os chineses pela pandemia da COVID, não apenas os chineses, mas também os japoneses, os filipinos, os vietnamitas e outros sul-asiáticos foram atacados. Estamos nos fundindo em “um povo de cor” que, combinado com os negros e os hispânicos, em breve será a maioria em nosso país. Com esta diversidade crescente, o próprio mainstream continuará a crescer e a mudar. Vejo isso como uma tendência positiva. Já chegamos a um ponto em que o sushi é tão americano quanto a pizza.
*Esta entrevista foi reimpressa do International Examiner , 24 de janeiro de 2022.
* * * * *

Junte-se ao autor Gene Oishi, sua filha Eve Oishi e ao estudioso Koji Lau-Ozawa no lançamento de um livro virtual em 6 de junho de 2024 em comemoração ao trabalho recém-revisado de Oishi de 1988, Em Busca de Hiroshi — um poderoso livro de memórias sobre sua luta ao longo da vida para reivindicar ambos suas identidades japonesa e americana após a Segunda Guerra Mundial.
Por favor confirme presença para receber um link de zoom.
Este programa é uma parceria entre o Discover Nikkei e a Kaya Press .
In Search of Hiroshi estará disponível para compra na Loja JANM .
© 2022 Jonathan van Harmelen